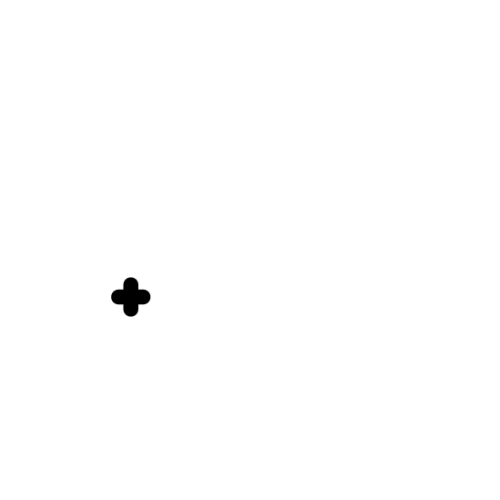O momento para o qual eu vinha tentando me preparar há tanto tempo chegou. E, apesar de ter imaginado esse cenário mentalmente centenas de vezes nos últimos oito anos, ainda não me sinto pronta. Mas as crianças não nos esperam para amadurecer. Vão para a cama à noite pedindo que a porta fique entreaberta com medo da escuridão e acordam crescidas, vivendo situações das quais gostaríamos de poupá-las.
Acredito que como mães e pais precisamos estar sempre um passo à frente, abrindo caminho pela densa selva cheia de perigos e maravilhas que é a vida, de modo a garantir que nossos filhos pisem em solo seguro. E é isso o que faço agora, propondo essa conversa.
Precisamos falar sobre a adoção de práticas antirracistas dentro do ambiente escolar. Mais do que isso, gostaria de propor um diálogo sobre soluções que possam blindar todo esse ecossistema composto por professores, alunos, funcionários e familiares contra (muitas vezes explícitas) agressões que nos distanciam mais e mais do ideal de equidade racial.
Dia 11 de maio, depois de voltar da escola, minha filha contou que aprendeu sobre “raça”, a partir das páginas do livro “Interpretação de Texto 3”, de William Cereja e Ciley Cleto, publicado pela Atual Editora. Na hora me lembrei de como eram os meus livros no terceiro ano do ensino fundamental, especialmente quando se tratava de etnia, raça e história do Brasil. Não tinha ninguém ali para me repetir as palavras da educadora Makota Valdina de que não sou descendente de escravos. Sou descendente de povos que foram escravizados. “Nada de projetar na sua filha os seus traumas”, foi a única voz que me soou internamente. Afinal, se trata dela, não de mim.
Fui conduzindo a conversa para entender como ela se sentiu. Percebo o desconforto ao falar do assunto. Desconversa, volta a falar, até que diz ter sido questionada por uma colega: “você não é negra?” A resposta: “eu sou parda, baby”. Ela usa o humor como defesa. Teria se sentido atacada? Silêncio.
A única página entre as 144 do livro que trata de inclusão racial parte de uma visão condescendente ao apresentar o quadro “Cresce a parcela de brasileiros que diz já ter sofrido algum preconceito”. Entre as perguntas do exercício era preciso responder quem mais sofre discriminação no Brasil. Os negros. Fim. Fim da possibilidade de apresentar minimamente o contexto que nos trouxe ao cenário atual. Fim da chance de não deixar como única apresentação de “raça” o fato de que o povo negro é inferiorizado sistemática e estruturalmente. Até onde poderíamos ter levado essa conversa para que as crianças não precisassem fazer suposições?
Ora, se ser negro no Brasil é sofrer, eu é que não quero ser negra. Esse é só um dos pensamentos lógicos sequenciais. Isoladamente, essa página é inofensiva. Acrescente à cena a capa desse livro, onde uma menina negra, sozinha, descalça e com os cabelos desgrenhados é a protagonista (tente comparar com todas as demais capas da mesma linha editorial com crianças não negras em atividades artísticas, com amigos, tendo sua criatividade e intelectualidade exaltada para compreender a problemática desse retrato) e começaremos a avistar a base desse iceberg. Indo além, de todas as fotos dentro do livro somente são retratadas crianças pardas e pretas em notas sobre trabalho infantil, preconceito e racismo. Não há, portanto, a naturalização da presença negra a não ser em um contexto de privação, dor e subserviência.
Como permitir que as crianças cresçam cientes da falsa positividade da página 38 que atesta “Você já reparou como tudo na natureza é único? (…) Por que os seres humanos teriam que ser todos iguais?” quando a mensagem lida, ouvida e assimilada em todas as demais linhas, literais e metafóricas, é de que a diferença deles os coloca em um lugar inferior?
Quisera eu que vivêssemos em um mundo utópico onde saber que nome tem a sua cor não fosse importante. Provavelmente nesse universo ela não teria sido chamada nem de moreninha, nem de escurinha ou parda, nem de negra nem de branca. Trabalhar a autoestima dela, portanto, mesmo quando não tenho sucesso, é minha especialidade. “Você sabe que ser chamada de negra não é ruim, certo? Sabia que nos EUA ou você é branco ou não é? Você pode se declarar como desejar, ok? Será que você é mais próxima de uma criança branca ou uma criança negra? Você se acha negra?”. Foram tantas perguntas feitas por mim, antecipando possíveis próximas cenas em aula que pude sentir sua cabeça dar voltas de forma vertiginosa.
Para uma pessoa branca, esse teatro quase circense pode ser considerado desnecessário. Para uma pessoa negra, informação e preparação são algumas das poucas armas contra o racismo. Racismo esse que começa assim que se inicia a fala. Que interfere na forma como as crianças escolhem seus pares e, futuramente, no modo como se relacionam ou não com pessoas de grupos étnicos distintos.
Gostaria eu que o momento dessa conversa chegasse só aos 15 anos, ou sequer existisse. Acontece que não falar a respeito de discriminação não torna as coisas mais simples. Pelo contrário, possibilita que crianças (e adultos) façam suposições infundadas e perigosas uns sobre os outros.
Voltando à sala de aula, minha filha já relatou que se sente incomodada quando o assunto é escravismo, racismo e raça. E eu me pergunto de que forma os educadores poderiam atuar para que isso não ocorresse? Qual o aporte teórico de quem detém a fala e traz luz para essas questões? A historiadora Ana Cristina Juvenal disse: “É preciso nos engajarmos na luta política para oferecer uma educação às crianças e jovens. Precisamos ensinar que eles não têm que sentir vergonha e nem sofrerem por ter no corpo a pele negra”. Concordo.
O que proponho não é banir o livro. Isso seria o mesmo que descobrir que um pirulito provocou cárie e jogar fora o doce em vez de tratar o dente. Precisamos uma melhor aplicação da lei 10.639 e vigilância para que a forma como a história do povo negro é contada seja revista. Estamos acostumados a reproduzir a visão eurocêntrica, que nunca foi conveniente a ninguém, a não ser aos privilegiados pelo racismo estrutural.
Em casa converso com ela sobre os reinos africanos, sobre o fato de que Cleópatra poder ter sido negra (embora retratada como inquestionavelmente branca), sobre a África ser um continente tão vasto, mas tristemente reduzido a sua estonteante fauna e flora. Conto que o continente africano abriga uma das universidades mais bem conceituada do mundo, que tem os melhores atletas de corrida, converso sobre os prédios altíssimos da África do Sul e sobre a beleza da moda em Lagos, na Nigéria.
Falo com ela sobre a escritora Chimamanda Ngozi Adichie, mas também sobre Djamila Ribeiro e Grada Kilomba, falamos sobre a Beyoncè, Elza Soares e Iza, sobre Neymar ter se descoberto negro, sobre termos tido um dos melhores jogadores de futebol do mundo e ele ser negro também, conversamos sobre LeBron James, o melhor da NBA, sobre Lewis Hamilton, grande campeão da fórmula 1, sobre a cientista Jaqueline Goes, mulher negra coordenadora da equipe que sequenciou o genome do vírus SARS-CoV-2 apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de COVID-19 no Brasil e sobre o fato das pessoas não falarem a respeito deles, deixando de enaltecer o fato de serem todos negros e verdadeiros campeões.
Sugiro que todas essas referências positivas possam brilhar. E que falem também sobre os algozes. Sobre quem se beneficia com o povo “que mais sofre preconceito no Brasil” e a que custo. Esses, sim, deveriam se sentir constrangidos, envergonhados nas aulas de História. Questionem a forma como nosso passado foi escrito e como ele vem sendo contado. Perguntem aos funcionários do colégio se eles já sofreram ou testemunharam algum tipo de comportamento racista. Não relativizem piadas, brincadeiras, agressões preconceituosas e degradantes nem as classifique-as como bullying. Ajudem coordenadores a identificarem essa situação e agir a respeito. Atualizem o corpo acadêmico para que pessoas negras estejam em posições de influência e tomada de decisões. Proponham oficinas com historiadores negros para que tenham uma visão decolonial do Brasil e do Mundo.
Solicitem consultoria especializada para a contratação de profissionais negros nas áreas educacionais e administrativas (e, acreditem, eles existem). Se organizem para a criação de um comitê Antirracista onde denúncias de alunos possam ser feitas e pais com sugestões para uma escola afirmativa possam ser ouvidos. Criem um protocolo sobre como agir imediatamente em caso de racismo. Convidem jovens personalidades negras brilhantes para falarem além da pauta racial, mas também sobre elas. Deem fim a esse silêncio ensurdecedor. Porque ele adoece.
Uma matéria da BBC afirmou, ao apresentar um estudo feito pelo Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, que episódios diários de racismo, desde ser alvo de preconceito até assistir a casos de violência sofridos por outras pessoas da mesma raça, têm um efeito às vezes “invisível”, mas duradouro e cruel sobre a saúde, o corpo e o cérebro de crianças. Tudo o que não desejamos para nossos futuros líderes.
Não deixemos que isso ocorra para então reagirmos. Sejamos, nós, agentes dessa benéfica mudança. Essa não é uma preocupação exclusivamente minha ou pautada unicamente pela minha vivência. Sem pessoas brancas não haveria racismo. Por isso precisamos dela para dissolvê-lo.
De forma muito despretenciosa, perguntei entre amigos com filhos em idade escolar e matriculados em instituições de ensino privado se eles conheciam escolas atuantes na luta antirracista. De 25 respostas, sete indicaram localidades. Sendo Nelson Mandela, escola pública de São Paulo e Maria Felipa, em Salvador, citada por três deles. Entre as particulares: Inotavi, em Valinhos e Módulo, em São Paulo, ainda que não soubessem pontuar exatamente como eram atuantes. Em contrapartida, todos se mostraram interessados em mudar esse cenário constrangidos por não questionarem os colégios de seus filhos, mas confiantes de que temos esse poder de mudança.
Uma busca rápida no Google confirmou “Uma em cada 10 escolas privadas não tem nenhum professor negro”, deu na Folha de SP. “Escolas privadas de São Paulo silenciam quando o assunto são alunos e professores negros”, saiu no El País. Mas já existe um movimento vindo com os ventos de mudança: “Movimento de Escolas Antirracistas começa ano letivo com mais negros nos colégios”, declarou o Estado de São Paulo e “Escolas de elite querem desnaturalizar o racismo”, li na Revista Educação.
Eu, particularmente, termino essa carta otimista. Considero a escola uma extensão da nossa casa. Um espaço formado por pessoas incríveis, profissionais gentis, empáticos e, acima de tudo, profissionalmente preparados. Me coloco à disposição para, como mãe e estudiosa das relações étnico-raciais, conversar com mais membros da coordenação em busca de soluções para aplicação dessa melhoria urgente e fundamental.
A vocês, da escola onde já construímos tantas boas lembranças e que, acredito, será sempre lugar seguro para as crianças, peço que comecemos a agir agora. A escolha de como seremos lembrados está ao nosso alcance.
Estaremos nas notícias como pais da geração que foi omissa na formação de jovens conscientes das armadilhas do racismo estrutural, como testemunhas de crimes racistas contra crianças, a exemplo da estudante franco-brasileira, alvo de comentários racistas por parte dos colegas da escola particular de elite carioca onde estudava e que foi tema de todas as emissoras de TV?
Ou seremos reconhecidos por ser uma das primeiras escolas do Brasil a implementar uma campanha de conscientização em prol da equidade e inclusão racial com metas cujo impacto possa ser mensurado? A pergunta parece retórica, mas eu verdadeiramente anseio pela resposta.
Referências:
É na escola que acontecem as primeiras experiências de racismo.
Escolas privadas de São Paulo silenciam quando o assunto são alunos e professores negros.
Escolas de elite querem desnaturalizar o racismo.
Uma em cada 10 escolas privadas de São Paulo não tem nenhum professor negro
Movimento de escolas antirracistas começa o ano letivo com mais negros no colégio.
4 impactos do racismo no cérebro das crianças.
Ilustração da capa: Alexandra Guanique